O Centro das nossas desatenções
Apaixonado pelo Rio de janeiro, o baiano Antônio Torres já transformou a cidade em personagem – mais do que em cenário – de alguns de seus principais romances, como Um táxi para Viena d’Áustria, Meu querido canibal e O nobre sequestrador. Em suas caminhadas pelo Centro do Rio, perambulando por becos, bares, lugares históricos, encontrou capítulos inteiros da história do Brasil por todos os cantos. E dessas deambulações surgiu O Centro das nossas desatenções, um olhar de escritor encantado por aquilo que a multidão que circula pelo bairro diariamente, em meio à correria cotidiana, não vê: a poesia e a beleza que se espalham pelo coração da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
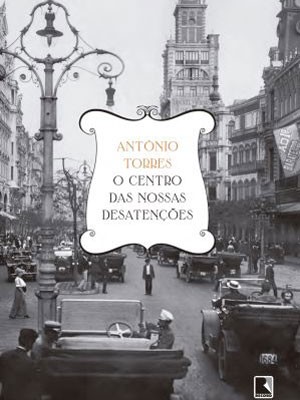
Publicado originalmente em 1996, como parte da coleção Cantos do Rio, da Rio-Arte, instituto da Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro, O Centro das nossas desatenções é relançado pela Editora Record, em projeto novo e recheado de ilustrações, na ocasião dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que encontrou nesse baiano de Junco um dos seus maiores cronistas.
Selo Oficial Rio 450 anos
Livros que receberam o selo oficial dos 450 anos do Rio de Janeiro por sua ligação com a história da cidade
Meu Querido Canibal (11ª edição)
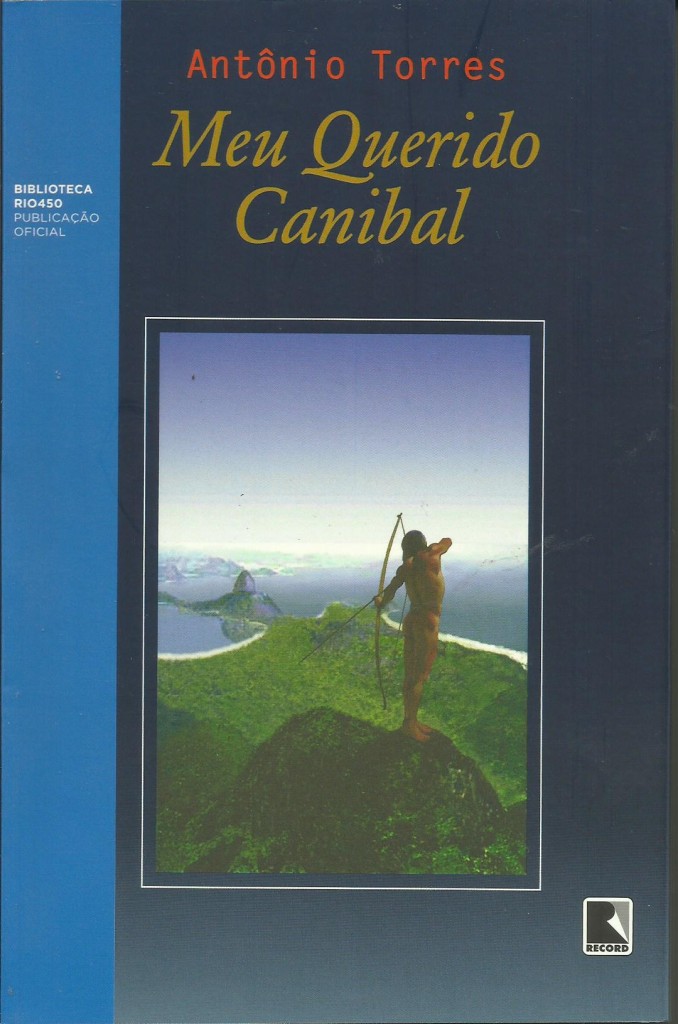
Antônio Torres narra, em um romance enxuto, o processo de ocupação do Brasil pelos colonizadores portugueses. Ou, por outras vias, a luta inglória dos índios brasileiros pela manutenção de sua terra e liberdade.
Num relato ágil e bem humorado, apesar do tema trágico, o narrador concentra-se no primeiro século da colonização, mais especificamente nos anos imediatamente anteriores e posteriores a 1557, data da morte de Cunhambebe, o “querido canibal” a que se refere o título da obra. Cunhambebe, cujo nome quer dizer “língua que corre rasteira” ou, mais simplesmente, homem de fala mansa, foi chefe dos tupinambás, tribo que se aliou aos franceses e combateu ferozmente os colonizadores portugueses. Dono de impressionante força física e de uma valentia a toda prova, Cunhambebe construiu sua legenda com sangue. Dava combate sem trégua a seus inimigos, fossem eles índios de tribos vizinhas que disputavam seu território ou fossem os portugueses, que chamava de “perós” (ferozes), por quererem fazer os índios de escravos. Torres aponta-o como o maior, o mais forte e o mais temido chefe indígena brasileiro de que se tem registro, imbatível nas artes da guerra, que justiçava os inimigos com impressionante crueldade e os devorava.
Mas o herói da narrativa não é somente Cunhambebe. Some-se a ele a figura do chefe Aimberê, que reuniu vários chefes indígenas, inclusive Cunhambebe, na Confederação dos Tamoios, que tinha por objetivo resistir à invasão portuguesa e libertar os índios aprisionados. A Confederação dos Tamoios durou cerca de 12 anos, até que as tribos confederadas foram dizimadas pelo exército comandado por Mem de Sá, então governador do Brasil, em 1567. Durante esse período, entretanto, os confederados infenizaram a vida dos portugueses, e também conseguiram negociar com eles uma trégua provisória e a libertação dos índios escravizados, em troca da vida de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, feitos reféns pelos confederados. A esta altura da narrativa, mostra-se uma face pouco conhecida de Anchieta. Ele aparece não apenas como o autor de poemas e autos religiosos e incansável catequizador dos índios, que vai corajosamente negociar com eles e acaba sendo feito prisioneiro. Quando não consegue subjugar os selvagens pelas palavras, Anchieta põe em prática a tese do dominicano Juan Ginés de Sepúlveda, apresentada em uma reunião do Concílio de Trento realizada em Valadolid, na Espanha, em 1550, segundo a qual os selvagens que não se submetessem aos colonizadores cristãos deveriam, com justiça, ser exterminados. Partindo dessa premissa, Anchieta empenhou-se em convencer Mem de Sá sobre a necessidade de dizimar os tamoios, tribo que, em suas próprias palavras, constitui uma “brava e carniceira nação, cujas queixadas ainda estão cheias de carne dos portugueses”. E após os portugueses liquidarem a fatura, Anchieta exulta, ao comentar uma batalha, louvando a ação dos colonizadores: “Quem poderá contar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados, na imensa mata! Cento e sessenta as aldeias incendiadas, mil casas arruinadas pela chama devoradora, assolados os campos com suas riquezas, passado tudo ao fio da espada!”
A narrativa ziguezagueante de Torres entremeia os confrontos entre índios e portugueses com as lutas dos portugueses contra os holandeses e os franceses, igualmente dispostos a se apossarem do território ou das riquezas brasileiras. Nessas guerras, os índios encontram-se sempre implicados dos dois lados. Há aqueles que receberão honrarias e glória no futuro, como Araribóia, depois Martim Afonso, que soube alinhar-se do lado certo, o dos portugueses vencedores. E há os que, como Cunhambebe e Aimberê, se aliaram aos franceses, sem deixar, porém, de defender a autonomia das nações indígenas, e que foram vencidos e esquecidos pela história oficial.
Em decorrência desse esquecimento, afirma-se outro herói no romance, que não é ninguém mais que o narrador. Convertido em dublê de historiador, o narrador canibaliza antigos relatos históricos e narrativas de viagens, ou peregrina pelo Rio de Janeiro a buscar, em seus sítios históricos e na memória coletiva do povo, os indícios do passado remoto. É da ação desse narrador, que repassa a história a contrapelo, como queria Walter Benjamin, que emerge dignificada a figura dos índios brasileiros, vencidos sim, mas que morreram de pé, como Cunhambebe achava digno morrer, defendendo sua terra, seus valores e seus costumes. E, ao final do romance, é esse narrador que se ergue energicamente contra a postura cômoda das autoridades que, nos dias atuais, resolvem esquecer conscientemente os conflitos passados e as utopias fracassadas com a desculpa fajuta de que isso seria uma perda de tempo. Ante a declaração de que é inútil discutir a História, feita por certa autoridade de Lisboa em visita ao Brasil, o narrador pergunta, indignado: “Perda de tempo para quem, cara-pálida?” E replica: “Conta outra, ó pá.”
Meu querido canibal surge, desde logo, com jeito de clássico. Sua releitura da história da colonização do Brasil é instigante e reveladora, e lembra, pela denúncia das selvagerias cometidas pelos colonizadores contra os supostos selvagens, textos como O paraíso destruído, do Frei Bartolomé de Las Casas, e As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. No aspecto formal, Torres também acerta em cheio, conseguindo impor um ritmo obsedante à narrativa. Sem se demorar em descrições ou em interpretações, o narrador restringe-se a apresentar, como que através de flashes, alguns fatos significativos, embora pouco conhecidos, do passado nacional. A ação progride através de sucessivos deslocamentos temporais, e encontra como constante contraponto a referência às vicissitudes da sociedade brasileira dos dias atuais. Por fim, a linguagem da obra é despojada e irreverente, marcando a distância do narrador, que se dispõe a canibalizar a História, em relação ao discurso pomposo e carrancudo da História oficial.
Para quem quiser refletir, a partir de hoje, sobre a identidade problemática do povo brasileiro, Meu querido canibal passa a ser, junto com outras obras já consagradas, como as de Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, uma referência obrigatória. O que não é pouco.
O Nobre Sequestrador (5ª edição)
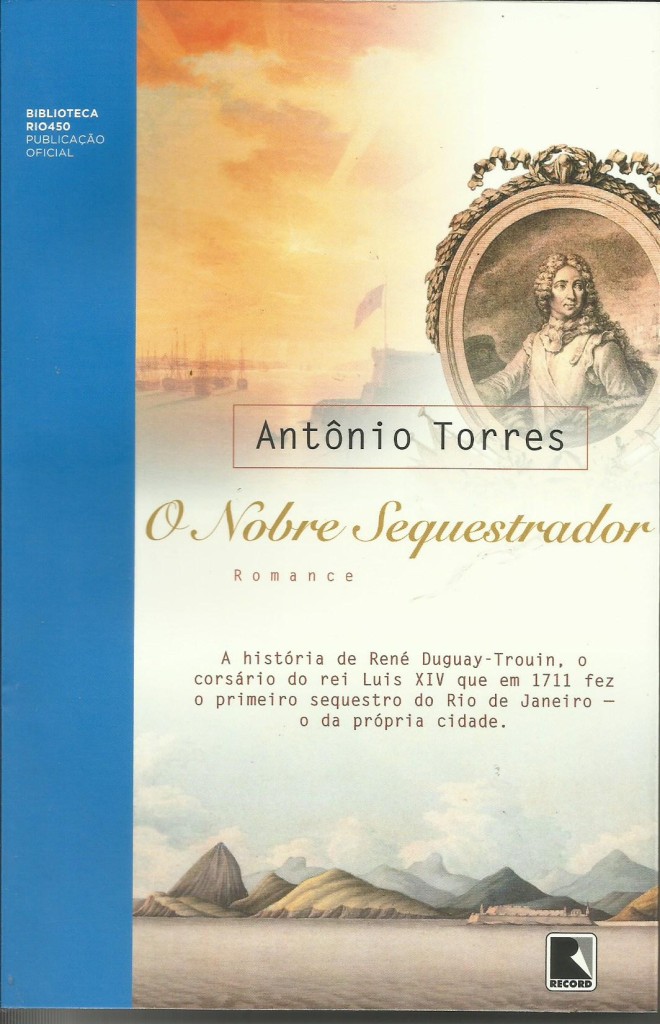
Em O NOBRE SEQÜESTRADOR, Antônio Torres conta a história de René Duguay-Trouin, corsário francês e personagem de muitas aventuras cuja espada submeteu navios, seqüestrou cidades, intimidou vontades e conquistou corações.
Depois do sucesso de Meu querido canibal — vencedor do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura em 2001 —, cujo personagem principal era o emblemático Cunhambebe, Antônio Torres não resistiu pesquisar sobre a vida de outra figura importante mas muitas vezes esquecida na história do Rio de Janeiro. “Esse audaz corsário de Luiz XIV, que encheu o Rio de terror e medo. Corri mundos e fundos atrás das suas trilhas, fui duas vezes à terra dele, Saint-Malo, que fica na Bretanha francesa e também a La Rochelle, de onde Duguay-Trouin partiu.”, revela o autor.
René Duguay-Trouin, um dos mais audazes personagens de seu tempo, chegou ao Brasil numa esquadra de 18 navios, com quase 6 mil homens e 700 canhões, para saquear o ouro que era embarcado no Rio de Janeiro e seguia para Portugal. Executou o plano com sucesso e tomou a cidade como refém durante cinqüenta dias, enquanto aguardava o pagamento do resgate para devolvê-la a seus habitantes, depois de encher os navios com o ouro carioca para partir, deixando-a dilapidada.
A bem-sucedida invasão de Duguay-Trouin funcionou como vingança pessoal para ele — um ano antes, um outro corsário francês, Jean-François Duclerc, tentou invadir o Rio, com cinco navios e mil homens, mas fracassou, terminando preso e assassinado misteriosamente —, além de representar um grande lucro para a França. As motivações de Duguay-Trouin eram bem mais amplas que as do corsário que o antecedeu. Pretendia deslocar o eixo da Guerra de Sucessão Espanhola da Europa, já que a França, que se batia nos mares contra uma poderosa coalizão formada por oito países, vinha sofrendo muito naquela guerra. Com a marinha agonizante, atacar o Rio seria uma maneira de eliminar os inimigos da França aos poucos, pelas beiradas, longe do seu poderio militar. Ou seja, atacar o Rio, na época a mais florescente colônia portuguesa, era atacar Portugal, eterno aliado dos ingleses e parte da coalizão européia que estava em guerra contra a França.
Com um fim nada heróico, a história de Duguay-Trouin, herói na França e vilão no Brasil, remonta a um tempo de aventuras e desventuras, de marinheiros, piratas e emoção. O NOBRE SEQÜESTRADOR é um romance de deixar o leitor tonto, em meio a tantas guerras, vendavais, tempestades, naufrágios, heroísmo, sonhos e sacrifícios humanos, sobretudo na era de esplendor e miséria do Rei Sol.
