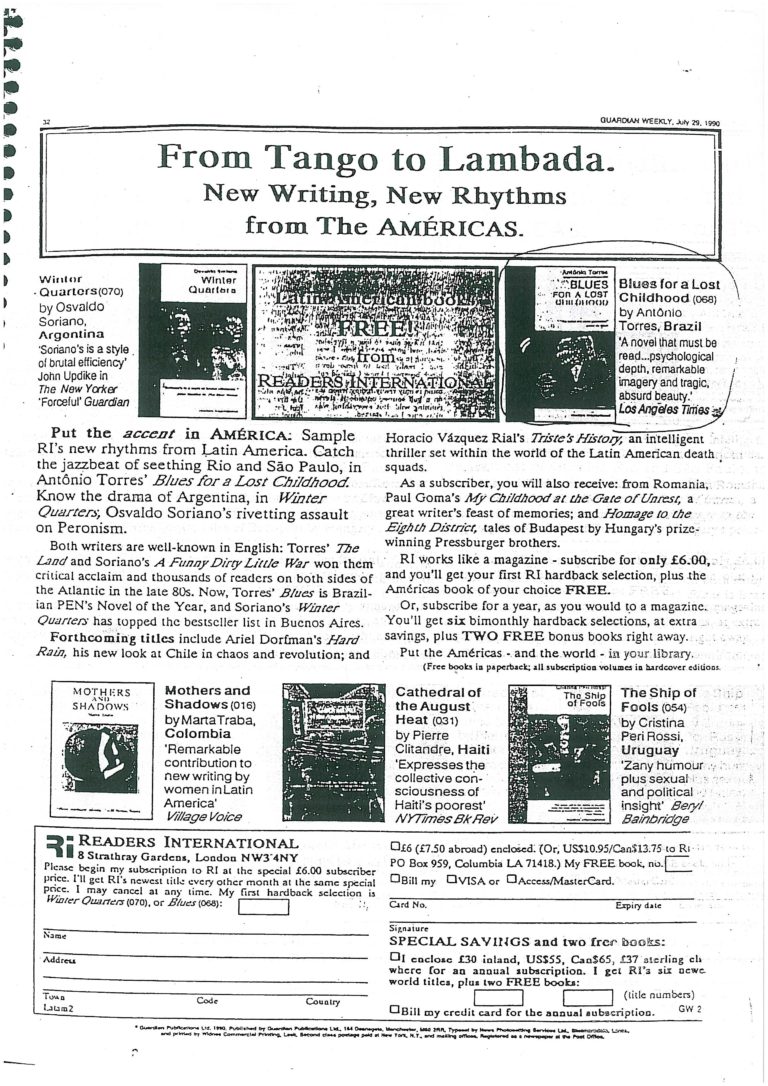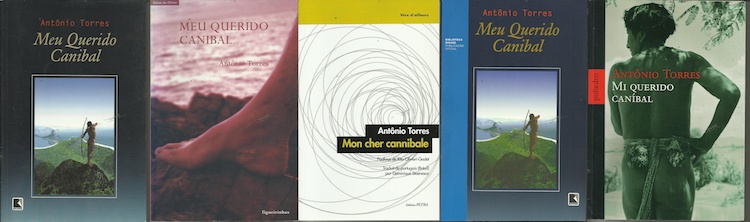“Não há um único documento de cultura que não
seja também um documento de barbárie. E a mesma barbárie que o afeta,
também afeta o processo de sua transmissão de mão em mão”. (WALTER,
Benjamin).
“MEU QUERIDO CANIBAL” – A IDENTIDADE BRASILEIRA
Reflexo do passado, presente e futuro
Lilian Daianne Bezerra Mota
INTRODUÇÃO
O Brasil é um país muito rico e diversificado,
que possui um acentuado acervo histórico e cultural, além de uma
memória tradicional que permite o deslumbramento de sua história. Esse
acervo envolve uma gama de difusão de valores, transmitida através da
narrativa cultural, para melhor entendermos a identidade do lugar e
garantir a propagação da memória do país para as gerações futuras. Na
verdade, a identidade trata-se de um processo de legitimação social e
cultural de determinados elementos históricos que confere a um grupo,
um sentimento coletivo de ser cidadão e fazer parte de uma nação.
Apesar de uma diversidade cultural muito extensa, o país ainda preserva
um legado cultural que favorece a sobrevivência de um povo.
Tive como prioridade o tema identidade, dentro do objeto de estudo
“Meu Querido Canibal”, por saber a importância desse elemento em uma
nação, tendo em vista que é muito difícil identificar essa questão no
meio de uma heterogeneidade de componentes históricos, culturais e
sociais tão ampla quanto existe no Brasil. A identidade é afirmada
através de uma herança aderente a uma série de artefatos históricos que
contribuíram para a construção da nacionalidade brasileira. Em “Meu
Querido Canibal”, estes artefatos aparecem através de uma narrativa
acerca do descobrimento do Brasil e dos acontecimentos após esse
período.
Posiciono-me sobre essa temática através de referenciais teóricos e
abordagem do objeto em pauta, que contribuíram para um novo olhar
acerca do que podemos entender como identidade brasileira, sendo que
esta teve como contribuição, inúmeras influências externas. Assim
sinto-me apta a dizer que a identidade de um lugar não se processa de
maneira individual e que falar de originalidade nesse contexto parece
algo improvável. Como podemos definir o que é ser brasileiro em um país
de tantos desiguais, preconceitos, diferenças, costumes e misturas
diversas? Ou somos brasileiros por simplesmente termos nascido aqui?
Essas são questões que tentarei responder ao decorrer do trabalho.
A IDENTIDADE BRASILEIRA – REFLEXO DO PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Qual o pressuposto que temos para definir quando se começou o
processo identitário do Brasil? Obviamente, o território já era
procedente de cultura antes que outros povos soubessem da sua
existência. Contudo, o que marca a história e identidade do país, é o
“descobrimento” dele por outros países como Portugal, através da
expansão marítima. Anteriormente, a história dos índios apenas foi
escrita por europeus e cada um deles possuía uma visão diferenciada. E
nessa falta de registros acerca do período “pré-descobrimento”, é que
nos vemos agora de mãos atadas acerca de fatos essenciais para a
constituição de uma identidade própria. Em “Meu Querido Canibal”,
percebemos como é importante a historiografia para a construção de um
povo e isso reflete em nossa sociedade atual. “A gente fica a pensar se
a história não será em grande parte um romance de historiadores”
(MONTEIRO, 1992).
Nos fundamentos da sociedade ocidental, o colonizador tenta
reproduzir sua dialética política, econômica, social e cultural no
lugar que se apropria, afastando o nativo de continuar vivendo de
acordo com os seus preceitos. Assim, a imagem refletida do conquistador
passa a fazer parte de um lugar onde antes existia uma cultura
própria, mas, ao mesmo tempo, diversificada devido às inúmeras tribos
com diferentes costumes já existentes. Contudo, não se vive a cultura
do outro em sua essência. Tendo a memória como instrumento de
intensificação, o colonizado tem a possibilidade de dar continuação a
sua cultura, mesmo existindo perdas significantes. Deste modo, o
coração da cultura nativa sempre estará pulsando e o conceito de
igualdade se dizimará. Muitas vezes não se vive nem uma cultura nem
outra. Apenas oscila em meio a tantos devaneios e diferenças,
impossibilitado de construir a sua própria identidade. “A penosa
construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o
não ser e o ser outro” (GOMES, 1990).
Em “Meu Querido Canibal”, Antônio Torres mostra que essa inserção de
uma outra cultura e a imposição à escravidão dos indígenas não foi de
forma tão pacífica assim. A Confederação dos Tamoios foi uma maneira
dos índios exigirem os seus direitos e maximizassem a voz para as
injustiças existentes numa organização de resistência aos
colonizadores. Torres se debruça em traçar um painel das primeiras
décadas de história brasileira mergulhando em acontecimentos como a
criação, auge e massacre da Confederação dos Tamoios, o arranjo social
das comunidades tribais, o estilo de vida, as mentiras e trapaças dos
conquistadores e a fundação da cidade do Rio de Janeiro.
A idéia de identidade vive atrelada a uma série de questões
históricas, políticas, econômicas e sociais, vinculada a um contexto
individual e coletivo, intitulada através da quebra de fronteiras que
determina a constituição da nação. O Brasil, como qualquer outro Estado
político, passou por inúmeras transformações advindas de um conjunto
histórico amplo e diversificado, juntamente com a inserção de vários
componentes de outras nações até determinar-se como nação unificada e
centralizada, constituindo o que somos hoje. Essa nação, porém
define-se como uma comunidade imaginária constituída da apropriação de
uma única língua, religião, costumes e etnias, associando-se a um
processo de homogeneização que contribui no desenvolvimento da
identidade brasileira. Contudo, diversas tensões culturais e literárias
tributaram no processo de identidade, sendo a antropofagia um dos
maiores enfoques dessa dialética, ou seja, o processo de homogeneização
citado não é tão inerente assim. A identidade apenas tentou ser
restringida a uma delimitação de fronteiras, mas com alternâncias sob
as demais culturas.
A antropofagia, muito trabalhada por Antônio Torres em “Meu Querido
Canibal” e por Oswald de Andrade em “Manifesto Antropofágico”, forneceu
subsídios na construção da nação Brasil. Através dela, o homem se liga
a uma outra cultura e transforma a sua e a outra que foi ligada, em um
processo de troca mútua e simbólica, constituindo uma quebra de
paradigmas e ao mesmo tempo fluxo entre as culturas. Esse choque de
culturas se transforma em uma experiência renovada, possibilitando que o
“eu” se encontre com o “outro” e dialoguem seus conhecimentos numa
ação transformadora e híbrida. A antropofagia representa a história da
construção cultural e literária do país. Todavia, sabemos que esse
processo foi imposto e ao mesmo tempo em que trouxe benefícios,
acarretou uma infinidade de problemas para os nativos da Nova Terra,
que foram privados de exercer a sua vontade e seguir os seus próprios
princípios culturais. “Aqui também os mais velhos do lugar tiveram a
sua história empurrada para debaixo do tapete asfáltico” (TORRES,
2005).
O movimento antropofágico brasileiro tinha como objetivo a ingestão
da cultura do outro. Com base nisso, pode-se observar a importância das
diversas influências externas pela qual o Brasil passou durante mais
de 500 anos de história como: a cultura afro-descendente, européia e
americana. Apesar da cultura indígena encontrada pelos portugueses já
ser bastante diversificada devido às milhares de tribos que habitavam o
país, o estrangeirismo foi fundamental para a heterogênea situação
atual do mesmo. A diversidade, composta nessa experiência estrangeira,
mesmo representando uma troca, pode acontecer através de uma força
dominadora, acoplada a anseios lucrativos, proporcionando uma
disparidade imposta e generalizada. Contudo, a troca em si, como ação
conjunta de transformação, ponderando-se do outro como uma contribuição
do meu ser, favorece a idéia de câmbio entre duas culturas. Apesar
disso, a cultura do outro, hierarquicamente, é moldada e, muitas vezes,
alterada.
Segundo Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico:
“Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente.
Filosoficamente. O movimento Antropófago. Única lei do mundo. Expressão
mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De
todas as religiões. De todos os tratados de paz”.
Movimentos literários e artísticos procuram no discurso
antropofágico a realização de uma linguagem e a composição identitária
da cultura e da pátria. Assim, a antropofagia ainda é apreciada numa
conjuntura cultural, sendo que muito disso foi retomado no ideário
nacionalista do Tropicalismo e no Modernismo. Hoje, presenciamos a
noção de estrangeirismo e nativismo ligados quando nos debruçamos sobre
a arte e arquitetura barroca expostas nas ruas de cidades brasileiras,
onde a contribuição européia, africana e indígena, aparece conectada,
convergindo uma a outra numa perspectiva tributária de costumes. A
hibridação cultural, aplicada pela Antropologia, possibilita o nosso
olhar em torno de uma perspectiva antropofágica, viabilizando uma
contemplação esporádica sobre a arte e a literatura dos movimentos
culturais, além de uma afirmação identitária. É nesse contexto, que a
assimilação e incorporação do outro se revela e nos possibilita
entender a formação cultural do Brasil, através do processo de
transculturação. A partir desse contexto, pode-se perceber a entrada da
expressão cultural e da diferença.
A desconstrução do contexto hegemônico se faz quando outros signos
identitários, construindo um discurso cultural e possibilitando o
multi-culturalismo, se ligam à idéia de cotidiano e sociedade
diversificada. Contudo, o conceito de identidade cultural ainda
continua disperso e apesar da singularidade de cada membro da
sociedade, ela ainda se estabelece no plural. A necessidade de designar
uma originalidade brasileira, através de uma cultura única na
composição nacional, pode existir, mas não é passível de acontecer em
nenhum Estado político. O passado já foi traçado, e moldá-lo de uma
outra maneira é uma missão impossível. A cogitação de uma ruptura com a
história escrita e com o passado cronológico é uma concepção utópica e
imaginária, assim como a linha do Equador. O conceito de identidade
igualitária esperada na sociedade ocidental é uma dialética ambígua e
deturpada, pois a pluralidade é fato e o hibridismo é uma constante em
nossas vidas. As diferenças culturais e sociais nas regiões brasileiras
são reflexos de um legado histórico oriundo dos diferentes povos que
colonizaram o país.
Por muitos anos, os índios, os negros, os mestiços e outras etnias
consideradas diferentes, foram tratados dessa forma. Isso originou
eventos como o Movimento Negro, a resistência dos sem-terras, o
genocídio no Amazonas, o imperialismo midiático e a imposição da língua
inglesa no mercado de trabalho brasileiro, constituindo o
autoritarismo dentro de fatos históricos e econômicos, devido ao
processo de domínio externo que houve no passado. Esse desmembramento
na identidade nacional é conseqüência complicada da herança histórica.
A dependência cultural é uma forma de apropriação de produções
artísticas e do pensamento de um determinado lugar. A formação
identitária da cultura brasileira ainda não foi legitimada, pois muitos
buscam uma originalidade e autenticidade dentro desse parâmetro. E
mesmo tendo um vínculo único chamado nacionalidade, não há espaço para
unicidade e essência dentro desse patamar identitário. É uma repleta
inviabilidade o discurso de homogeneização cultural. Através desse
discurso da originalidade da identidade brasileira, podemos ter um novo
olhar intelectual e cultural apenas sobre o passado imaginário dos
nativos indígenas no período anterior ao descobrimento, possibilitando
um diálogo após a incorporação dos legados afro-europeus e a
consciência da condição histórica. As expressões populares que
conhecemos hoje são reflexos do fomento pós-descobrimento.
Mas enfim, qual é a identidade do Brasil afinal? Os brasileiros para
serem chamados dessa forma foram determinados pela legitimação de uma
língua, demarcação de território e costumes semelhantes. Por que falar
mal da nudez de hoje, se desde muitos séculos os povos indígenas já
viviam nus? Como não falar de imperialismo americano, se fomos
submetidos a esse governo desde a vinda dos portugueses? Por que não
falar de preconceito, se índios e negros foram escravizados e tratados
como diferentes e hoje ainda são olhados com desconfiança e vistos como
marginalizados? Hoje podemos ver como os acontecimentos passados
interagem com o nosso presente e como fomos criados em cima de
estereótipos.
Edificar uma nação implica no desenvolvimento de uma identidade
nacional, traçada dentro de fronteiras geográficas, culturais e
étnicas. A construção da nacionalidade brasileira implica até nossos
dias quando nos deparamos com acontecimentos como os 500 de
“descobrimento” do Brasil e não sabemos se é motivo de comemoração ou
não. E sempre a pergunta “Quem somos?” surge em meio aos discursos.
Particularmente, o que nos diferencia das demais nações é o tempo que
nos dirige e determina que vivemos há apenas 506 anos e que antes disso
a nossa narrativa não existia. Apesar do pouco tempo que foi
determinado, muito se foi feito para que o Brasil tivesse uma memória e
patrimônio que nos possibilita dizer que possuímos identidade.
Evidentemente, a literatura é uma intensa instituição que contribui para
a acepção imaginária e cultural de sociedade e produção de valores que
legitima a nossa cultura, e determina que grupos sociais diferentes
participem de um conjunto identitário. É através dela que identidades
culturais e nacionais são configuradas e narrativas passam a dar
sentido aos nossos modelos de vida atual e anseio de pertencimento à
pátria, sem submeter-se bruscamente a aspiração estrangeira.
Atualmente, mais uma vez estamos passando por um processo de
ultrapassar barreiras e permitir que o outro faça parte de nós através
das relações internacionais e parcerias entre empresas e
multinacionais. Beneficiando ou não, as relações externas sempre
existirão e nem países como os Estados Unidos seriam capazes de viver
sem conexão alguma com outro país. O que eu vejo nisso tudo, é que o
Brasil é um lugar de raças, mitos, preconceitos e heterogeneidade, mas
acima de tudo, ainda tem um povo que mesmo sofrendo ainda torce
(futebol), mesmo com fome ainda brinca (Carnaval), mesmo sendo
discriminado, luta (Movimento Negro), mesmo sendo dependente, não se
aliena. Memória, mito, história e identidade são essenciais para a
existência social, mas só pertencendo a um lugar, sendo o seu ou não de
origem, é que somos munidos de alma, de pertencimento. Sem isso, somos
apenas seres vagantes, “sem êra nem bêra”, frutos do acaso, o que não
acredito. Orgulho de pertencer a um lugar é ter identidade. Existir é
ter identidade. A altivez promissora dessa terra é que somos bem
aventurados de correr entre os tiros de bala e uma guerra civil, viver
em meio ao tráfico de drogas, ser discriminado ao entrar num restaurante
ou uma universidade, ser mordido pelas cobras políticas e midiáticas,
ser barrado por crianças nas sinaleiras, por uma série de desempregados
e analfabetos, assistir a vida da maneira mais cruel e ainda assim ter
forças para levantar em meio a tanto lixo, morbidez e ganância,
acordar alagado pela chuva e dizer: “a vida continua” e “a esperança é a
última que morre”. E como disse Torres, “ninguém estava preocupado em
construir um país, mas em enriquecer rapidamente, a qualquer preço.” E o
povo ainda vive, tendo ou não, identidade.
Texto produzido em dez/2006 – Publicado em maio/2007 no Recanto das Letras: http://recantodasletras.uol.com.br/ensaios/489680.
REFERÊNCIAS
ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989.
BARBOSA FILHO, Rubem. O barroco ibérico. In: Tradição e artifício: iberismo e barroco na formação americana. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CÂNDIDO, Antônio. Formaçãoda literatura brasileira. Belo Horizonte/São Paulo, Itatiaia/ Edusp, 2002.
CARVALHO, Bernardo. Nove noites. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
GÂNDAVO, Pero de Magalhães. A primeira história do Brasil: história da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
GIUCCI, Guillermo. Uma carta: Nação Império. In: ROCHA, João Cezar Castro (Org.). Nenhum Brasil existe. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003.
GOMES, Paulo Emílio Salles. In: SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
JECUPÉ, Kaka Werá. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio. 3.ed. São Paulo: Peirópolis, 1998.
MONTEIRO, Tobias. In: CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
MONTAIGNE, Michel de. Dos canibais. In: Os ensaios. Trad. Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2000
SANTIAGO, Silviano. Apesar de dependente, universal. In: Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
SOUZA, Laura de Mello. O novo mundo entre Deus e o diabo. In: O diabo na terra de Santa Cruz. 8. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1974.
TORRES, Antônio. Meu querido canibal. 5. ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2004.
WALTER, Benjamin. In: CHAUI, Marilena de Souza. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1993.
Bacharel em Turismo pela Fundação Visconde de Cairu (FVC); Graduanda
do curso de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia (UFBA);
Pós-Graduanda em Planejamento e Gestão de Destinos Turísticos do
Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de Cairu (CEPPEV-BA);
E-mail: lilytaylor@hotmail.com.