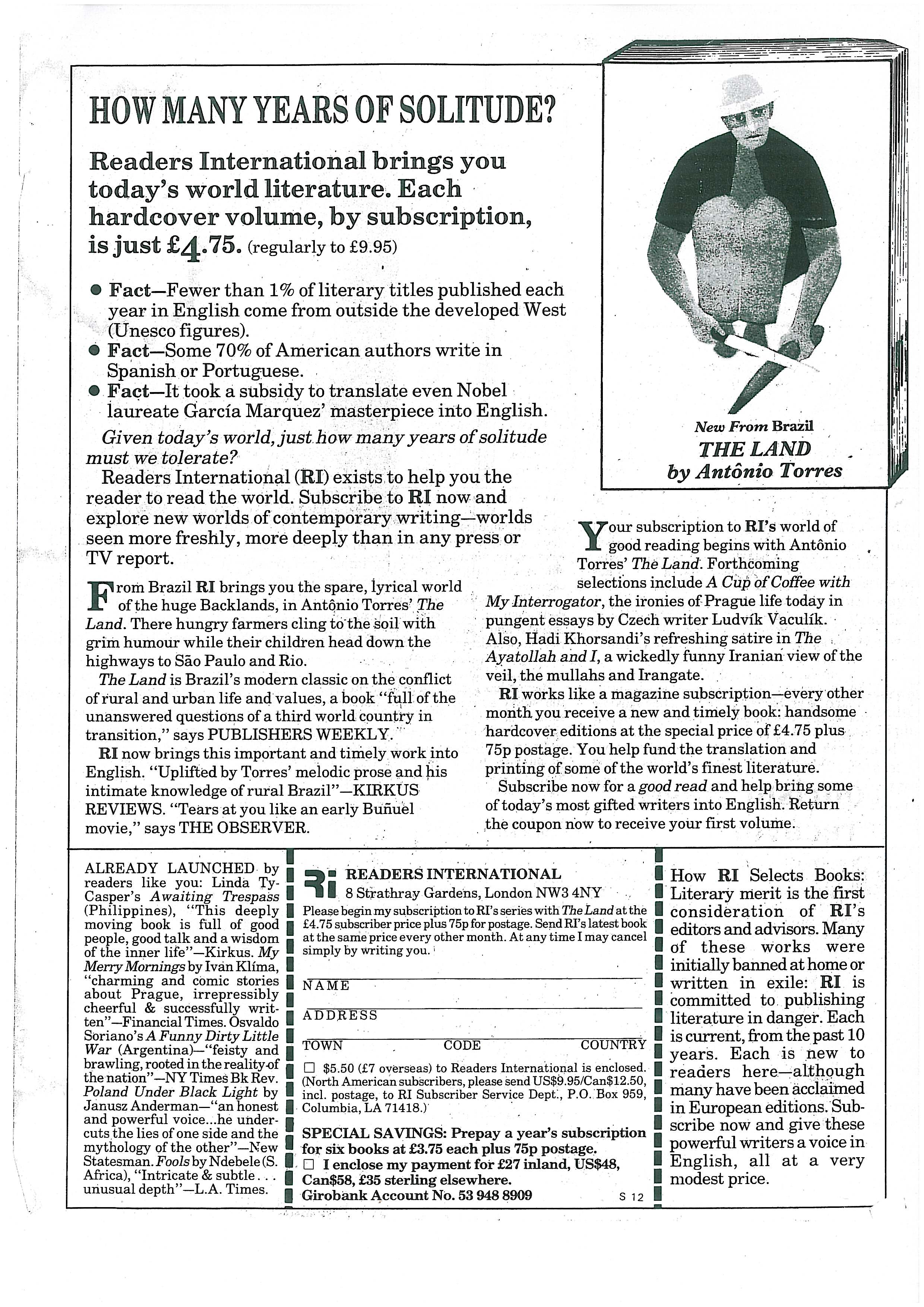Tribuna da Imprensa – Rio de Janeiro, 11-12 de dezembro de 1976.
Leonor Basseres

Quem sou eu?
Quem é você?
Que receita foi usada na produção do seu vizinho? Aquele a quem você sorri vagamente todo dia à mesma hora no elevador?
Quantas colheres de sopa, de mãe, o fizeram tão gordinho? Quantas, de pai, lhe deixam assim a fronte úmida mesmo nos dias de temperatura amena?
Quantas pitadas de tio bêbado, quantas gotas do louco da cidade?
O tempo necessário de colocá-lo na batedeira?
Do que é feito gente, em nome de que pai, que filho, que espírito, que santos?
Fiquei surpresa ao ler Essa Terra, de Antônio Torres. Baiano de Alagoinhas (o que só soube por mero acaso recentemente), nunca foi um autor regional. Aí estão as provas, Um Cão Uivando Para a Lua, seu livro de estréia e o admirável Os Homens dos Pés Redondos. Neles aceitou dissecar o homem qualquer que fosse o seu universo: o limitado de um hospital psiquiátrico, ou o amplo de um país em plena efervescência política, preste a explodir. E que explodiu. Proféticas previsões de artista.
Custei a entender. Mas quando o consegui foi um só deslumbramento.
Busco nas estantes os livros mencionados. Não os encontro. Minhas estantes são de alta rotatividade: não sou avara nem ciumenta das minhas jóias. Os homens dos Pés Redondos, talvez estejam com Nina. Lembro que não parou de folheá-lo num jantarzinho aqui em casa. Um Cão, talvez eu o tenha levado para Petrópolis, para reler nas noites frias de inverno. Assim, despojada, não posso citar trechos que confirmem a minha idéia. E você, leitor, tem que confiar apenas na minha lembrança e vago instinto. Ou então, compre-os para ler. Estará adquirindo clássicos, não enchendo sua casa de lombadas vazias.
Ainda vivemos num país de panelinhas literárias, de “donos da bola”. Livro chocante, grosseiro, meramente episódico, dá manchetes, infinitas badalações. Talvez porque fujam a esses negocinhos pára-literários, Antônio Torres e Ignacio Loyola Brandão, alguns dos mais límpidos e indiscutíveis talentos da nova geração, sejam tão pouco badalados. Talvez, num nível mínimo para não dar na vista.
Loyola ainda tem a glória pitoresca de ter sido publicado primeiro na Itália. E só depois encontrado uma jovem editora brasileira com peito e com visão bastantes para lançá-lo no Brasil.
Torres, desde o começo, teve mesmo que enfrentar os tupiniquins…
Essa Terra não é a historia de uma terra mas do seu produto humano.
O que fizeram dele e com ele.
E daí? pergunta você, leitor. Não tentaram todos os grandes explicar através do ambiente a criação do santo ou do monstro?
Sim tentaram. Do “Pére Goriot”, de Balzac, a Raskolnikov de Dostoyesky. Todos condenados antes de que a ação do livro se iniciasse. Repositórios de um caldeamento maldito e inelutável.
Então, qual é o grande achado, a novidade descoberta e desenvolvida por Torres?
Tão simples quanto inacreditável!
Todos os seus antecessores, na cauda da Renascença, jogaram o jogo do “chiaro oscuro”: sociedade alienizante e castradora, de um lado: personagem/ pessoa/ produto/ vitima, do outro.
Essa Terra não é nada disso. As pessoas e os cenários se somam, se absorvem, criam um organismo único que tem a obrigação de desafiar ou pactuar com a vida. Não há perdão, porque não há culpa. Nenhum ser leito, é conspurcado, vilipendiado. Todos vão ter que viver com o que são, e o que são é o terem sido.
O narrador de Essa Terra introjetou tudo. É tudo. Até a lembrança do irmão, primeiro vitorioso, depois morto. Que nunca consegue morrer completamente já que nunca viveu de vida própria, independente. E só perdura em Totoninho, enquanto lhe cravam os cravos do caixão.
Devorou, absorveu, transformou, somou ao seu quadro genético a loucura da mãe, as ladainhas do pai, cantadas ao amanhecer. O chefe de policia, diluído e vencido. Amores mal gastados, vinganças sem sentido.
Tudo, num só sentido. Que ele os viva todos. Ou que não se viva nenhum.
Não há vários personagens em Essa Terra. Há um só. Que, às vezes, como se descasca uma cebola, consegue se descascar e deixar um rastro sangrento. Consciente de que tudo será assim. E desse assim deve partir.
Porque ele é. E quando mais doa, mais será.
Estranho livro nordestino onde a natureza e o meio nunca são culpados. Apenas fatores de precipitação das paixões humanas.
Tempo e lugar importa? Se somos todos um mosáico cujo padrão podemos modificar apenas ligeiramente num esforço de consciência e auto-reconhecimento.
Se não há o crime original, pode haver castigo?
Piedade, paternalismos?
Livre arbítrio? Conversa, há séculos impingida e venerada.
Torres respeita os seus personagens. Contra eles não comete a injúria da pena. Quem pode realmente optar, se no escuro o sentido da palavra é escamoteado?
Com tudo isso, não quero dizer que Antônio Torres seja um fatalista. Longe disso. Apenas não procura esconder a cabeça na areia e, assim, sair lavado do pecado original.
Acho que desde o inicio da sua obra literária persegue o mesmo fio da meada. Se agora montou o seu coreto na Bahia, é porque lhe parecia um universo mais compacto, palmilhado. Tão limitado e vasto cenário como uma Grécia de Eurípedes.
É preciso, de vez em quanto, que a gente se olhe no espelho, que assista aos traços diluídos sôfregos por se adaptarem à máscara.
Forçar a isso é a obrigação e a meta do artista.
Nem sempre precisamos ser fantoches, se assumirmos essa parte nossa e, portanto, compreendermos de quê os fantoches são feitos. Em geral, do nosso sangue, da nossa ansiedade. Do nosso, nosso, que nos inibe de levantar a espada em causa própria.
Aí estaremos livres para dar os primeiros passos adiante.
Torres não lança mão do absurdo e do fantástico. Disso se encarrega a vida. Ele apenas registra, sublinhando, aqui e ali, a mão forte do “destino”.
Como arma, brande a palavra escrita, sua íntima amiga. E, com ela, para os sonhos de todos nós que, queiram ou não queiram, um dia se transformarão na rica semeadura.
Nesse livro, não há cronologia. As falas se misturam, às vezes num só período. Tudo se trança e se destrança, como na memória. Figura e fundo se alternam na conquista do primeiro plano, exatamente como nesse longo balé que é a vida.
Essa Terra, um brado de verdade de alguém que conseguiu ver, se vendo.
E retoma, não como uma pergunta aflita, mas como o desafio maior da humanidade, a velha frase: “E agora, José?”
Apenas uma amostra um pequeno exemplo:
“… Foi então que comecei a me sentir perdido, desamparado, sozinho. Tudo o que me restava era um imenso absurdo. Mamãe Absurdo, Papai Absurdo. Eu Absurdo. “Vives por um fio de puro acaso”. E te sentes filho desse acaso. A revolta, outra vez e como sempre, mas agora maior, mais perigosa. Não morrerás de susto, bala ou vício. Morrerás atolado em problemas, a doce herança que te legaram…”